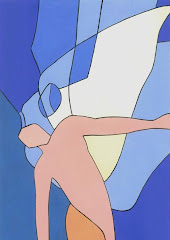(I Parte: Das paisagens marinhas aos retratos de praia)
José Malhoa, “Dois Artistas Pintando à Beira-mar”, 1918, óleo
s/tela
Com 940 quilómetros de costa só no território continental, Portugal não
poderia deixar de ter uma grande quantidade de pintores dedicados ao tema do
mar e em particular das praias portuguesas, luminosas, de areia quente, água
fria e bem iodada no norte, límpida e refrescante no sul.
As paisagens marinhas foram um género de eleição entre os
artistas portugueses na viragem do século XIX para o XX, após a introdução do
Naturalismo em Portugal por João Marques de Oliveira e Silva Porto na década de
1870 e da projeção que lhe deu o Grupo do Leão. Constituído por artistas que se
reuniam na cervejaria Leão de Ouro, em Lisboa, o grupo realizou oito
exposições, com muito sucesso.
Columbano Bordalo Pinheiro, “Grupo do Leão”, 1885, óleo
s/tela, Museu do Chiado.
Sentados, da esquerda para a direita: Henrique
Pinto, José Malhoa, João Vaz, Silva Porto, António
Ramalho, Moura Girão, Rafael Bordalo Pinheiro e Rodrigues
Vieira. Em pé, da esquerda para a direita: Ribeiro Cristino, Alberto
de Oliveira, o empregado de mesa Manuel Fidalgo, Columbano Bordalo
Pinheiro (que se autorretratou de cartola), um desconhecido (o proprietário da cervejaria?) e Cipriano Martins.
O Naturalismo surgiu em França como oposição aos ideais do Romantismo, defendendo a representação fiel da natureza, e adquiriu rapidamente uma vertente crítica denominada Realismo – que não teve grande expressão em Portugal. Os temas naturalistas (as paisagens de vários tipos, as cenas rústicas e burguesas, os costumes pitorescos, o retrato, …) eram consensuais: agradáveis e pacatos, mostravam a riqueza paisagística nacional, os monumentos, os grandes vultos e feitos da nossa história, os bons costumes e as tradições nacionais. Os clientes burgueses da pintura queriam que a realidade por eles experienciada perdurasse perante os seus olhos nas paredes das suas salas, permitindo-lhes recordar, com um simples olhar, situações, rostos, emoções, aprender o mundo pelas janelas das imagens. E por se ligar tão bem com a nostalgia nacional, foi apoiada pelo público, adquirida pelos clientes burgueses e pelas mais ilustres instituições do nosso país, instalou-se na academia e vingou pelo século XX dentro em concorrência com o Modernismo.
Os campos e praias nacionais foram assim pintados ao longo de décadas pelos mais merecedores artistas, a começar por Marques de Oliveira (Porto, 1853-1927) e Silva Porto (Porto, 1850-1893), depois João Rodrigues Vieira (Lisboa, 1856-1898), Manuel Henrique Pinto (Cacilhas, 1853-1912), José Moura Girão (Lisboa, 1840-1916), António Carneiro (Amarante, 1872-1930), António Ramalho Júnior (Barqueiros – Mesão Frio, 1859-1916), Henrique Pousão (Vila Viçosa, 1859-1884), José Malhoa (Caldas da Rainha, 1855-1933), Columbano Bordalo Pinheiro (Lisboa, 1857-1929), José Souza Pinto (Angra do Heroísmo, 1856-1939), Carlos Reis (Torres Novas, 1863-1940), João Vaz (Setúbal, 1859-1931), João Cristino da Silva, (1858 - 1948) Agostinho Salgado (Leça da Palmeira, 1905-1967), Mário Augusto (Alhadas - Figueira da Foz, 1895-1941), Luciano Freire (Lisboa, 1864-1935), Artur Loureiro (Lisboa, 1850-1907), Alfredo Keil (Lisboa, 1850-1907), D. Carlos de Bragança (Lisboa, 1863-1908), Aurélia de Sousa (Valparaíso, 1866-1922), Carlos Reis (Torres Novas, 1863-1940), Veloso Salgado (Ourense, 1864-1945), Mily Possoz (Caldas da Rainha, 1888-1968), Falcão Trigoso (Lisboa, 1879-1956), Manuel Jardim (Coimbra, 1884-1923), Augusto Gomes (Matosinhos, 1910 - 1976), Lázaro Lozano (Nazaré, 1906-1999), entre outros. Quase todos pintaram praias e cenas de praia com pescadores, barcos de pesca, banhistas, turistas. Os pintores nascidos em localidades com atividade piscatória tradicional (Augusto Gomes, Agostinho Salgado, Lázaro Lozano, …) captaram com emoção os trabalhos e dramas das gentes do mar.
A popularização da fotografia a cores retirou atualidade à pintura naturalista. A evolução tecnológica permitiu a comercialização de máquinas fotográficas manuais cada vez mais pequenas, mais baratas e fáceis de usar, assim como filmes mais rápidos e cores mais reais. No entanto, o desenvolvimento vertiginoso do litoral alterou profundamente em poucas décadas o aspeto das praias´e essa pintura quase esquecida recuperou progressivamente o seu interesse iconográfico. A representação fiel da realidade conferiu-lhe estatuto documental. Os museus municipais e as galerias de arte não desperdiçaram a oportunidade de reanimar a memória dos artistas cujos nomes o público já não recordava, apoiando o regresso da pintura naturalista às montras da cultura e aos mercados da arte.
Aqui ficam algumas imagens.
Os campos e praias nacionais foram assim pintados ao longo de décadas pelos mais merecedores artistas, a começar por Marques de Oliveira (Porto, 1853-1927) e Silva Porto (Porto, 1850-1893), depois João Rodrigues Vieira (Lisboa, 1856-1898), Manuel Henrique Pinto (Cacilhas, 1853-1912), José Moura Girão (Lisboa, 1840-1916), António Carneiro (Amarante, 1872-1930), António Ramalho Júnior (Barqueiros – Mesão Frio, 1859-1916), Henrique Pousão (Vila Viçosa, 1859-1884), José Malhoa (Caldas da Rainha, 1855-1933), Columbano Bordalo Pinheiro (Lisboa, 1857-1929), José Souza Pinto (Angra do Heroísmo, 1856-1939), Carlos Reis (Torres Novas, 1863-1940), João Vaz (Setúbal, 1859-1931), João Cristino da Silva, (1858 - 1948) Agostinho Salgado (Leça da Palmeira, 1905-1967), Mário Augusto (Alhadas - Figueira da Foz, 1895-1941), Luciano Freire (Lisboa, 1864-1935), Artur Loureiro (Lisboa, 1850-1907), Alfredo Keil (Lisboa, 1850-1907), D. Carlos de Bragança (Lisboa, 1863-1908), Aurélia de Sousa (Valparaíso, 1866-1922), Carlos Reis (Torres Novas, 1863-1940), Veloso Salgado (Ourense, 1864-1945), Mily Possoz (Caldas da Rainha, 1888-1968), Falcão Trigoso (Lisboa, 1879-1956), Manuel Jardim (Coimbra, 1884-1923), Augusto Gomes (Matosinhos, 1910 - 1976), Lázaro Lozano (Nazaré, 1906-1999), entre outros. Quase todos pintaram praias e cenas de praia com pescadores, barcos de pesca, banhistas, turistas. Os pintores nascidos em localidades com atividade piscatória tradicional (Augusto Gomes, Agostinho Salgado, Lázaro Lozano, …) captaram com emoção os trabalhos e dramas das gentes do mar.
A popularização da fotografia a cores retirou atualidade à pintura naturalista. A evolução tecnológica permitiu a comercialização de máquinas fotográficas manuais cada vez mais pequenas, mais baratas e fáceis de usar, assim como filmes mais rápidos e cores mais reais. No entanto, o desenvolvimento vertiginoso do litoral alterou profundamente em poucas décadas o aspeto das praias´e essa pintura quase esquecida recuperou progressivamente o seu interesse iconográfico. A representação fiel da realidade conferiu-lhe estatuto documental. Os museus municipais e as galerias de arte não desperdiçaram a oportunidade de reanimar a memória dos artistas cujos nomes o público já não recordava, apoiando o regresso da pintura naturalista às montras da cultura e aos mercados da arte.
Aqui ficam algumas imagens.
António Ramalho, “À espera dos retardatários – Passeio
à Boa Nova”, óleo s/tela, 1887
João Marques de Oliveira, “Esperando os barcos”, 1892
João Vaz, “A Praia”, c. 1890, óleo s/tela, Casa Museu
Anastácio Gonçalves
D. Carlos de Bragança, “Praia de Cascais”, 1906,
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves
José Malhoa, “Praia das Maçãs”,1918, óleo s/madeira,
Museu do Chiado
Mily Possoz, “Praia de pescadores - Cascais”, 1919,
pintura a guache s/papel, Museu do Chiado
António Carneiro, “Praia da Figueira da Foz”, 1921
Falcão Trigoso, Marinha, 1924, óleo s/ madeira
Agostinho Salgado, "A Chegada dos Pescadores -
Póvoa de Varzim", 1931, pintura a óleo
Aurélia de Souza, “Barcos de Pesca”, óleo s/tela
Alfredo Keil, “Fitando o Mar Largo”, óleo s/tela
Abel Manta, “Barcos na Nazaré”, 1935, óleo s/madeira
Mário Augusto, "Praia da Figueira da Foz", 1935,
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves
Lázaro Lozano, “Viúvas na praia”, 1946, óleo
s/platex, Museu Dr. Joaquim Manso
Augusto Gomes, Composição, óleo sobre tela, FBAUP
Manuel Jardim, “Crianças na praia”, óleo s/madeira,
Museu Machado de Castro
Júlio Pomar, “Mulheres na Praia”, 1950, óleo s/ tela, CAM FCG