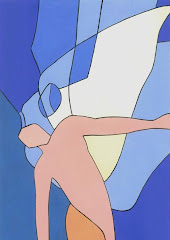A 16ª Bienal de Cerveira, em 2011, registou cerca de 100.000 visitantes (Foto: Sérgio Reis)
A 17ª Bienal de Vila Nova de Cerveira irá decorrer entre 27 de
julho e 14 de setembro de 2013, sob o tema “Arte: Crise e Transformação” e à
luz das comemorações dos 35 anos da mais antiga bienal de arte em
Portugal.
O Concurso Internacional e o Concurso de Residências Artísticas
encontram-se já abertos, até 31 de março de 2013, e os respetivos regulamentos
podem ser consultados AQUI. O primeiro concurso “visa a criação de
oportunidades de representação para artistas jovens/emergentes” e destina-se a
artistas nacionais e estrangeiros. O segundo pretende criar condições para a
troca de experiências e conhecimento entre os artistas e destes com o meio
cultural de acolhimento, fomentando o reforço da identidade da designada
"Vila das Artes”.
O tema da 17ª Bienal, “Arte: Crise e Transformação”, é oportuno pois sente-se cada vez mais a necessidade de uma reflexão alargada sobre o atual momento artístico em contexto de
crise internacional, agravada em Portugal devido ao esforço de contenção e
reequilíbrio das contas públicas. Refletir mas também agir. Haverá uma arte da crise? Os artistas costumam
lidar geralmente bem com as crises setoriais, mas como resistir em tempo de
crise generalizada? Deverá haver uma arte (ou artistas) subsidiada pelo Estado,
em certa medida “oficial” por depender de critérios definidos por cada governo
ou de leis aprovadas por maiorias partidárias? Uma arte comprometida ou, pelo
menos, “politicamente correta”, por seguidismo ideológico, acomodação política
ou sobrevivência económica? Será a crise inspiração ou já motor de
transformações, induzindo novas atitudes e comportamentos dos artistas e dos
mercados? Certo é que esta crise deixará marcas profundas em toda a sociedade
portuguesa. Acabará por passar, como tudo passa, e o país continuará país, o
Estado continuará Estado, mas ficarão pelo caminho muitos portugueses sem culpa
nem proveito em matéria de esbanjamento dos dinheiros públicos.
Quando a contenção de despesas coloca muitas associações em
dificuldades e paralisou ou extinguiu as Empresas Municipais de Cultura,
encontrando-se as Fundações na mira do Governo (embora apenas para disparar
alguns tiros de pólvora seca), conclui-se que muitas profissões liberais terão
de se ajustar ou fundir, adquirindo hoje particular sentido e urgência a velha
máxima: “A união faz a força”.